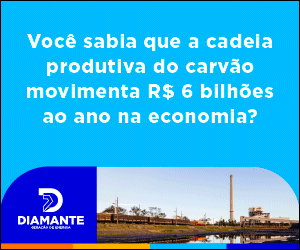A borto não é, e ninguém propõe que venha a sê-lo, recurso contraceptivo ordinário. Quem recorre ao abortamento o faz como último meio para interromper de uma gravidez que se põe, por razões personalíssimas, indesejada.
O que a situação civilizacional da Sociedade brasileira requer é que se excluam do âmbito de incidência dos artigos 124 e 126 do Código Penal os abortos que forem praticados nas primeiras 12 semanas de gestação.
O Caderno Repressivo em vigor é de 1940, reflete uma mentalidade rural, religiosa, patriarcal. As garantias da Constituição Cidadã de 1988 determinaram consideração a preceitos que antes inexistiam na nossa vida cívica.
Código Penal, art. 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque: Pena – detenção, de 1 a 3 anos; art. 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante: Pena – reclusão, de 1 a 4 anos.
Em primeira leitura, parece que a controvérsia está resolvida pela norma punitiva. Só que não. A vontade constitucional é outra. Os tribunais superiores têm sempre e mais optado pelas garantias amplas da dignidade da pessoa.
A Constituição Federal de 1988, um marco na Sociedade brasileira, em seu art. 5º trata dos direitos e garantias de cidadania. Sua incidência sobre as demais normas vigentes relativizaram a interpretação que se lhes dava.
Assim, não se pode aplicar o Código Penal desconsiderando os direitos fundamentais das mulheres à vida, à liberdade, à integridade física e psicológica, à saúde, ao planejamento familiar. Numa palavra: à autodeterminação.
Ademais disso, e dando base científica a esses conceitos que são jusfilosóficos, está a opinião quase unânime das instituições médicas. Os Conselhos de Medicina, por maioria, tomaram corajosa posição.
Posicionam-se “a favor da autonomia da mulher em caso de interrupção da gestação. Com base em aspectos éticos, epidemiológicos, sociais e jurídicos, as entidades defendem a manutenção do aborto como crime, mas acham que a lei deve rever o rol de situações onde há exclusão de ilicitude, devendo haver o seu afastamento quando ocorrer a interrupção da gestação em uma das seguintes situações:
a) quando houver risco à vida ou à saúde da gestante; b) se a gravidez resultar da violação da dignidade sexual, ou do emprego não consentido de técnica de reprodução assistida; c) se for comprovada a anencefalia ou quando o feto padecer de graves e incuráveis anomalias que inviabilizem a vida independente, em ambos os casos atestadas por dois médicos; d) se por vontade da gestante até a 12ª semana da gestação” (https://bit.ly/2KxzVUa).
Para os médicos, “entendimentos distintos devem ser respeitados, como se espera num Estado Democrático de Direito, contudo, do ponto de vista ético, entendeu-se, por maioria, que os atuais limites excludentes da ilicitude do aborto são incoerentes com compromissos humanísticos e humanitários, paradoxais à responsabilidade social e aos tratados internacionais subscritos pelo governo brasileiro.
Para os Conselhos, a rigidez dos princípios não deve ir de encontro às suas finalidades. Neste sentido, deve-se ter em mente que a proteção ao ser humano se destaca como apriorístico objetivo moral e ético” (editado).
Esses dizeres médicos são de 2013, antecipando decisões judiciais importantes, como a da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a qual em 2016 firmou posição de que aborto até o terceiro mês de gravidez não é crime.
Ora, se juristas e médicos estão em afinidade de entendimento, que ocorre para tanto e com tanta emoção se debater acerca da audiência pública que, sobre o tema, acontece no STF? Bem, religião. Religiosos são contra.
Alguém, com atilamento, logo poderia dizer: aos religiosos, que se os respeite, que não se os tente convencer a converterem-se à causa pró descriminalização do aborto. O problema é bem o inverso, todavia.
Os religiosos intentam converter a todos à sua bitola ideológica. Desconsideram outras opiniões e crenças, não respeitam a autonomia intelectual de ninguém; pretendem que sua causa seja a causa do mundo. Não é.
A causa é da Sociedade, é laica e está jurisdicionada. Os religiosos pretextam que o Congresso é o único foro do debate; a Constituição entende que, igualmente, o Judiciário é lugar pertinente para uma conversa definidora.
“Rosa Weber defende que STF opine sobre aborto: ‘Falar em democracia constitucional, que é um conceito que não se reduz ao conceito de democracia majoritária representativa, sem compreender os valores fundamentais que a viabilizam é incidir em mera retórica.
Há que reconhecer o valor da divergência e ter presente o conflito entre os direitos fundamentais envolvido nessas questões constitucionais. Mas há que reconhecer o valor do arbitramento necessário à resolução do problema, por meio de processo público de tomada de decisão, seja no âmbito do Parlamento, seja no âmbito do Judiciário’” (FSP, 04ago2018).
Alguém com “pureza” de crença se espanta indignado: “Como chegamos nisso?” Eu, em contramão, também assombro: “Como nunca saímos disso?” Bem, estamos saindo para algum lugar. Haverá resposta do Judiciário.